Isolacionismo ou globalização, eis a questão
A globalização não está morta, mas profundamente abalada. Até porque, no momento, os yankees, sob nova direção, parecem que não querem saber quem pintou a zebra, quanto mais saber de globalização.
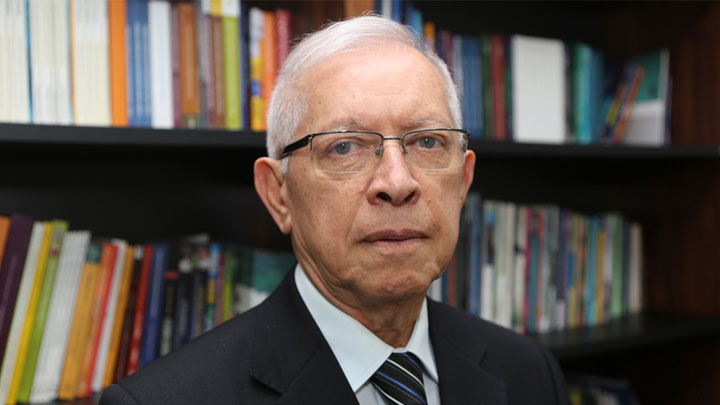
Por Juarez Quadros do Nascimento*
“Ser ou não ser, eis a questão”. Essa frase que vem da peça “A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca”, de William Shakespeare, escrita há mais de 400 anos e frequentemente utilizada devido conter um fundo filosófico profundo, serve-me para titularizar este artigo. Justo porque, nos 20 primeiros dias de nova administração na Casa Branca, Donald Trump faz render na mídia inúmeras análises, mediante uma aparente guerra na qual a arma empregada constitui-se de ameaças tarifárias.
Eleito presidente dos EUA, Trump assinou no dia de sua posse (20/01/2025) 46 decretos. Entre eles, o da saída da Organização Mundial da Saúde e do Acordo de Paris. Outros decretos assinados relacionam-se à imigração, ideologia de gênero, cidadania, exploração de recursos naturais, fontes de energia, política comercial, remoção das restrições ao desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) etc. Duas medidas do presidente dos EUA merecem destaque: a perfuração de poços de petróleo e o investimentos de centenas de bilhões de dólares em IA, a demandar datacenters e energia.
Quem assistiu a posse de Donald Trump deve ter notado o expressivo simbolismo geopolítico como pano de fundo, onde os empresários de grandes plataformas digitais, entre elas, Amazon, Meta, “X”, Alphabet, OpenAI e Apple, ocuparam posições de destaque. Seria um recado para o mundo de que os EUA usarão cada vez mais as big techs como imposição geopolítica para cumprimento da promessa de campanha de tornar a América grande novamente?
O promitente isolacionismo protagonizado por Trump poderá impactar o mundo, a incluir os americanos, pois aumentar tarifas, aumentaria o preço final de produtos e serviços, portanto aumentaria os índices inflacionários. Inflação em alta gera instabilidade econômica, onde todos perdem e, em termos econômicos mundiais, a reciprocidade é a regra para a revisão de políticas comerciais.
Cabe lembrar que a globalização, na qual os EUA atua fortemente, trata de promover a integração econômica, social e cultural do espaço geográfico em escala mundial. Caracteriza-se pela intensificação dos fluxos de capitais, mercadorias, pessoas e informações, proporcionada pelo avanço tecnológico e regulatório principalmente nas comunicações, energia e transportes.
A hegemonia norte-americana foi modelada no planeta Terra com nações interdependentes geopoliticamente. Algumas sob sua influência, outras nem tanto. O comércio mundial é complexo e os mercados exigem transversalidades. Retóricas políticas contendo ameaças tornam as negociações difíceis. Será que a hegemonia norte-americana que levou à conhecida globalização já não atende mais aos interesses dos EUA e, na visão de Trump, estaria sendo usada pela China, seu principal concorrente?
Sabe-se que a China constrói um centro de comando militar em Pequim maior do que o Pentágono construído pelos EUA em Washington. Que recentemente a startup chinesa Deep Seek fez os gigantes de IA perderem bilhões de dólares em um dia. Que no mercado de aviação comercial a iniciativa da China de entrar nesse mercado com os jatos fabricados pela Comac tem se intensificado, de forma a competir internacionalmente com os principais fabricantes de aviões ocidentais, a europeia Airbus, a americana Boeing e a brasileira Embraer. Que em telecomunicações, mesmo sem vender nos EUA, a indústria chinesa já é líder mundial.
Como o bloco da União Europeia não consegue acompanhar EUA e China, o ministro francês para Assuntos Europeus, pede a suspensão da implementação de normas sobre padrões ambientais e de direitos humanos na cadeia de suprimentos dos países do bloco, alegando que elas são onerosas para as empresas, conforme declaração em uma rede social. Por sua vez a presidente da Comissão Europeia afirmou no Fórum Econômico Mundial (Davos/Suíça) que muitas empresas estão freando investimentos na Europa devido a trâmites desnecessários. Ao que parece, a Europa está ficando para trás em temas como regulação de telecomunicações e de inteligência artificial e precisa agir rápido para mudar o quadro.
Os críticos de Trump ainda alertam que as medidas fazem parte de uma guinada nacionalista e que tem como objetivo recuperar a produção industrial americana. Na história americana do século XX foi a abertura de mercados, e não o protecionismo, que intensificou o crescimento do país. Sem comentar o que ocorre nas indústrias de setores como siderúrgico, automobilístico, medicamentos etc. vejamos o que ocorre na indústria de telecomunicações.
Diversos têm sido os fabricantes de telecomunicações pelo mundo (onde se insere o Brasil) e com sede em diferentes países, como: Lucent, Motorola e Standard Electric (EUA); Nortel (Canadá); Alcatel (França); Marconi (Itália); Philips (Holanda); Siemens (Alemanha); NEC (Japão); SID, Elebra, Promon, Batik e Zetax (Brasil); Nokia (Finlândia); Ericsson (Suécia); Huawei e ZTE (China). Com a globalização – que não está morta, mas profundamente abalada – , vários fabricantes encerraram, ou reduziram, atividades e alguns passaram por processos de fusões ou aquisições. Hoje, com escala global no “core” de redes de telecomunicações, concorrem a vender no mercado mundial: a finlandesa Nokia, a sueca Ericsson e as chinesas Huawei e ZTE.
Sabe-se que de “G” em “G” a tecnologia celular avançou pelo mundo, mas sempre observando os aspectos técnicos e não técnicos como padronização, regulação, planos de negócios, pesquisa e desenvolvimento, interoperabilidade e sustentabilidade, mais escalabilidade, padronização e interesses geopolíticos. Tudo mediante tarefas deslumbrantes, desafiadoras e gratificantes, porém globalizadas.
No momento, os yankees, sob nova direção, parecem que não querem saber quem pintou a zebra, quanto mais saber de globalização. Aparentemente buscam o isolacionismo. Os europeus, para não quebrar, pensam em rever suas relações; os chineses, a sorrir, querem o “mais-tudo” e muito mais; e aqui, muitos dos brasileiros precisam saber o que querem. Pelo sim, pelo não, as agendas dos diplomatas de plantão nas diversas nações, a incluir os do Brasil, deverão ser revisitadas.
O norte-americano David S. Landes em “A riqueza e a pobreza das nações” escreveu em 1998 uma extensa e fascinante história da riqueza e da pobreza, a criação de riquezas, as trajetórias de vencedores e perdedores e a ascensão e queda de nações. Nesse livro Landes estuda a história como um processo, tentando compreender como as culturas do mundo atingiram – ou retardaram – o sucesso econômico e militar e a realização material. Vale a pena ler de novo.
Os líderes vencedores da Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) não esperaram o seu final para planejar os dias seguintes. Em 1941, o norte-americano Franklin Roosevelt e o inglês Winston Churchill publicaram a Carta do Atlântico, que precedeu a Organização das Nações Unidas. Em 1942, no Reino Unido foi publicado o Relatório Beveridge, documento que visou o bem-estar universal. Em 1944, a Conferência de Bretton Woods forjou o gerenciamento econômico internacional do pós-guerra. Será que hoje, tais tipos de planejamento se fazem necessários, para além do promitente isolacionismo de Trump? Não sei!
(*) O autor é Engenheiro Eletricista, Evangelista Regulatório e Tecnológico. Foi ministro de Estado das Comunicações e presidente da Anatel.



